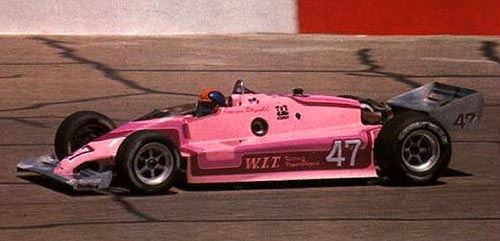Imagine você, dono de equipe da Indy que certamente não me lê, que sua fornecedora de motores anuncia que basicamente todas as unidades produzidas estão com um problema sério e precisam de recall. Todas, tanto as suas como as do vizinho. Vai fazer o quê? Reclamar no PROCON? Não existe isso nos Estados Unidos. Processar o fabricante? Se você é americano, provavelmente será sua escolha, mas isso não vai ajudar sua vida na próxima corrida. Então, meu amigo, senta e chora.
Neste ano, a IndyCar Series voltou a ter mais de uma fornecedora de motores. Três, mais precisamente. Além da Honda velha de guerra, a Chevrolet e a Lotus também decidiram produzir o coração dos novos carros da categoria. Muita conversa, muita festa, muito otimismo e muita dor de cabeça. Até aqui, a Lotus não fez nada certo: atrasou o cronograma, conseguiu produzir apenas meia dúzia de motores, nenhum deles funciona a contento e as equipes também não estão contentes. No teste feito em Indianápolis, nenhuma equipe da Lotus foi para a pista somente porque não puderam receber seus motores. Surgiu um boato de que a fabricante se retiraria da Indy e suas clientes teriam de se virar para conseguir parcerias com Honda ou Chevrolet. O sinal amarelo está aceso.
Mas nem mesmo a Chevrolet está sorrindo a toa. O motor deles, sim, é bom pra caramba. Se não fosse, Hélio Castroneves e Will Power não teriam vencido as duas primeiras corridas com a insígnia da gravatinha. Só que, por incrível que pareça, ele tem um problema estrutural que aparenta ser sério. Em testes no Alabama, este problema, ainda não revelado, foi detectado pelos próprios técnicos da Chevrolet e a obrigou a levar todos os seus propulsores para averiguação na fábrica. Resultado: as equipes terão de utilizar novos motores em Long Beach, local da etapa deste fim de semana. Como a quilometragem mínima permitida para troca ainda não foi alcançada, todos os onze carros Chevrolet terão de perder dez posições no grid em Long Beach. Todos! É mole?
O fato é que os clientes da Chevrolet e da Lotus têm todos os motivos do mundo para mandarem todo mundo para o inferno. É um saco quando alguma coisa dá errado por causa de um fornecedor. O Top Cinq conta cinco histórias de equipes prejudicadas de alguma forma pelos seus parceiros. Só consegui me lembrar de casos da Fórmula 1, mas tudo bem.
5- GOODYEAR E TYRRELL EM 1976 e 1977
Vocês se lembram do Tyrrell P34, não é? O famoso carro de seis rodas de Ken Tyrrell, utilizado nas temporadas de 1976 e 1977. Esta aí uma ideia absolutamente genial no papel, mas que acabou enfrentando alguns problemas na prática e terminou engavetada após apenas duas temporadas.
A ideia de colocar um par de rodas a mais veio do projetista Derek Gardner, que havia pensado nisso ainda nos tempos em que trabalhava na USAC. Em 1974, já na Tyrrell, Gardner apresentou ao madeireiro Ken a ideia de criar um carro com seis rodas para revolucionar a Fórmula 1. Como a Tyrrell utilizava o mesmo motor Cosworth V8 e o mesmo chassi Hewland da maioria dos concorrentes, era necessário dar o pulo do gato de alguma maneira.
Gardner teorizava que os pneus dianteiros tradicionais, de 13 polegadas, geravam enorme arrasto aerodinâmico na parte dianteira, o que reduzia a capacidade de aderência. As demais equipes tomavam como solução o uso de grandes asas dianteiras, mas elas acabavam diminuindo a velocidade final em reta. O projetista da Tyrrell concluiu que uma outra coisa que poderia ser feita seria a substituição da roda de 13 polegadas por duas pequenas rodinhas de 10 polegadas. Com isso, daria para reduzir a influência do pneu dianteiro no arrasto aerodinâmico sem precisar usar asas grandes e sem perder área de contato com o solo. Excelente!
Tão logo o Tyrrell P34 foi apresentado, no fim de 1975, ele foi considerado um dos grandes favoritos ao título do ano seguinte. Sua estreia se deu apenas na quarta corrida da temporada, em Jarama: Patrick Depailler largou em terceiro e andou durante um bom tempo nesta posição, mas bateu e abandonou a prova. Ken Tyrrell sorriu. O carro era bom, principalmente de tração e em curvas lentas. Em Anderstorp, uma pista que não era assim tão veloz, Jody Scheckter e Patrick Depailler fizeram uma bela dobradinha e mostraram que o bichão estranho andava direitinho. Não ganhou mais naquele 1976, mas fez vários pódios.
Só que o desenvolvimento do carro estacionou. A Goodyear, fornecedora de pneus, não estava nem um pouco interessada em gastar dinheiro e recursos humanos e tecnológicos para desenvolver compostos específicos para uma única equipe. Enquanto os pneus convencionais evoluíam normalmente, os pneus de 10 polegadas da Tyrrell ficaram até seis meses atrás em desenvolvimento. Como comprovação do “descaso”, a Goodyear havia disponibilizado apenas uma máquina de testes destes pneus menores na Bélgica. E ela podia ser utilizada durante apenas algumas noites por semana, veja só.
A Goodyear continuou levando este desenvolvimento pelas coxas em 1977. Infelizmente, a versão atualizada do P34, com um novo bico dianteiro, era inferior ao do ano anterior e os resultados ficaram muito aquém do esperado. Além de não ter pneus decentes, o carro apresentava muitos problemas de superaquecimento. Sem o menor apoio da fabricante americana de pneus e sem ter os resultados a favor, a Tyrrell decidiu abandonar a ideia de um carro de seis rodas no fim daquele ano.
4- HONDA, LOTUS, WILLIAMS E TYRRELL
Pouco tempo após retornar à Fórmula 1, em meados de 1983, a Honda já estava dando o que falar na categoria. No fim de 1985, os motores japoneses tinham encontrado no Williams FW10 um ótimo hospedeiro que formaria o melhor pacote para as últimas corridas. O casamento entre Honda e Williams foi bastante frutífero e permitiu que Nigel Mansell e Nelson Piquet perdessem o título de 1986 em grande estilo.
Fora da Fórmula 1, os japoneses da Honda se esforçavam para manter seus diminutos olhos abertos para um piloto em especial. Ele já havia ultrapassado a casa dos trinta anos de idade fazia tempo, mas ainda era visto como a grande esperança dos nipônicos no automobilismo internacional. Seu currículo justificava tamanha babação: nada menos que cinco títulos na Fórmula 2 japonesa. Cinco! Desafio alguém a achar um sujeito com mais títulos em uma categoria de base deste porte na história do automobilismo. Seu nome: Satoru Nakajima.
Nakajima era o verdadeiro homem da Honda dentro das pistas. Em 1985, ele conciliou sua vida de estrela da Fórmula 2 japa com a de piloto de testes da marca em Suzuka. Andava horas a fio com um carro da Williams equipado com o motor Honda e, com a destreza de um engenheiro, fornecia um detalhado feedback sobre o seu funcionamento. Graças à devoção, à perseverança e à enorme capacidade técnica, ele conseguiu um lugar na Fórmula 1 em 1987 na Lotus. Mas como? Uma das grandes exigências feitas pelos japoneses à Lotus: se quiserem nossos motores, terão de receber nosso piloto. Valia a pena, pensavam os capos da equipe que ficaria amarelada.
Satoru fazia o humilde trabalho de acertar o motor e até tentava andar bem de vez em quando. Montado num razoável 99T, ele conseguia marcar um ponto aqui e acolá, mas nem sonhava em andar no mesmo segundo do companheiro Ayrton Senna. Ainda em 1987, meio de saco cheio de fornecer motores à Williams, a Honda estipulou que Frank Williams contratasse Nakajima para substituir Nelson Piquet se quisesse continuar recebendo os motores. Frank obviamente recusou, o que já era esperado. Com isso, acabou perdendo os motores para a McLaren – que não foi exigida desta forma.
Nakajima permaneceu na Lotus por mais dois anos. Em 1990, ele quase foi parar na Arrows, mas a Honda estipulou que a Tyrrell o contratasse. Como Ken Tyrrell passaria a receber o motor V10 dos japoneses em 1991, ele seria obrigado a engolir o simpático piloto de Okazaki como contrapartida. Assim foi feito e Nakajima fez duas temporadas discretas, sempre andando bem atrás dos competentes companheiros Jean Alesi e Stefano Modena.
Uma pena. O cara era bom piloto, mas só conseguia suas vagas porque a Honda praticamente forçava suas parceiras a contratá-lo. A contragosto, elas simplesmente lhe entregavam um carro meia-boca e apenas umas sobras de atenção. Por sua vez, Nakajima não conseguia extrair o máximo de seu bólido e os resultados acabaram sendo fracos. A equipe ganhava no motor e perdia no segundo piloto.
3- ELF, WILLIAMS E BENETTON NO GP DO BRASIL DE 1995
Em 1995, a francesa Elf, ainda uma empresa estatal, era a fornecedora de combustíveis e óleos das duas melhores equipes daqueles dias, a Williams e a Benetton. Uma tremenda responsabilidade, mas os técnicos da marca eram competentes e tinham experiência. Eles nunca cometeriam um erro estúpido do tipo fornecer uma amostra de gasolina para ser aprovada pela FIA na pré-temporada e outra totalmente diferente após um treino do GP do Brasil, já que isso é totalmente ilegal. Claro que nunca fariam isso. Só que fizeram.
Pouco antes da largada da esperada etapa brasileira, a FIA emitiu um comunicado dizendo que as amostras da gasolina utilizada pela Benetton de Michael Schumacher e pela Williams de David Coulthard nos treinos eram totalmente diferentes daquelas que a Elf foi obrigada a entregar à federação na pré-temporada. Pela mal-criação, as duas equipes foram multadas em 30 mil dólares e desclassificadas da prova. Benetton e Williams fizeram um apelo às pressas e conseguiram reverter a desclassificação, já que pegaria mal realizar uma corrida sem as duas melhores equipes. Só que o assunto não morreu aí.
No decorrer da corrida, os computadores exibiram um aviso feito pela organização. Os resultados de Schumacher e Coulthard, quaisquer que fossem, estavam sob júdice. Se os comissários estivessem de mau-humor ou não gostassem dos queixos esquisitos de Michael e David, retirariam o resultado de ambos sem qualquer traço de piedade. Foi o que aconteceu. Os dois terminaram a prova em primeiro e segundo, mas foram desqualificados cinco horas e meia após a bandeirada. O vencedor passava a ser o ferrarista Gerhard Berger, que havia cruzado a linha de chegada em terceiro.
Berger, cara-de-pau, fez questão de espocar uma garrafa de champanhe ainda no domingo e ainda disparou na cara dos adversários. “Meu carro esta regular e a gasolina destes caras, não. É bom para moralizar um pouco a Fórmula 1”, afirmou. Benetton e Williams, possessas, entraram com recursos exigindo seus resultados de volta e a Elf até mesmo ameaçou entrar na justiça comum. No fim das contas, meio arrependido, o presidente da FIA Max Mosley devolveu os resultados brasileiros a Schumacher e Coulthard após o GP da Argentina. Os dois ficaram com seus pontos, troféus e estrelinhas na testa.
Quem se deu mal foram as equipes. Benetton e Williams tiveram de pagar multas de 200 mil dólares cada e ainda não recuperaram os pontos de construtores. Quanto à Elf, somente sua reputação ficou meio arranhada.
2- MUGEN-HONDA E MINARDI
1995 foi um ano bom para encrencas. Esta daqui só serviu para mostrar que não se brinca com Flavio Briatore, aquele. O chato é que a vítima aqui, a coitadinha da Minardi, acabou indo parar no banco dos réus. Conto a história, que é complicada e embananou minha cabeça.
No fim de 1992, Giancarlo Minardi, Flavio Briatore e um gardenal da Cosworth negociaram o fornecimento de 15 motores Ford HB utilizados por Tom Walkinshaw no Mundial de Protótipos à Minardi nos anos de 1993 e 1994. O contrato valia quase 5 milhões de dólares, sendo que 2,4 seriam pagos em 1993 e o restante no ano seguinte. Até aí, tudo certo.
Só que os motores Ford HB eram ruins de doer e a Minardi tratou de correr atrás de qualquer outra coisa para 1994. Giancarlo Minardi e seu novo sócio Beppe Lucchini negociaram diretamente com a Ford e arranjaram um contrato de motores mais vantajoso. Para resolver a questão da quebra do antigo contrato com Flavio Briatore, foi decidido que a Minardi lhe pagaria uma multa de 1,05 milhão de dólares em parcelas durante o ano de 1994. Até aí, tudo certo novamente.
Para 1995, a Minardi negociava seriamente com a Mugen-Honda. Um contrato chegou a ser assinado e a equipe começou a desenvolver o M195 pensando que iria receber os motores japoneses. Só que Flavio Briatore, ainda bastante contrariado pela quebra de contrato, decidiu pagar uma graninha extra por fora para a Mugen-Honda quebrar o contrato com a Minardi e pular direto para a Ligier. De quebra, garantiu que ajudaria os japoneses se a Minardi decidisse entrar na justiça. Vale notar que, naqueles dias, Briatore acumulava as funções de diretor geral da Benetton e dono da Ligier. Esperto, nem um pouco. Ao perceber esta manobra, Giancarlo Minardi simplesmente parou de pagar a tal multa ao Briatore. Cerca de 600 mil dólares ficaram para trás.
A Mugen-Honda aceitou a proposta de Briatore e largou a Minardi falando sozinha no início de 1995, transferindo sua graça e beleza à Ligier. A equipe italiana teve de refazer todo o cronograma às pressas e desenvolveu um novo carro para receber os velhos motores Ford em poucas semanas. Obviamente prejudicada, ela entrou na justiça contra a Mugen-Honda. Ganhou. Mas tomou uma bela rasteira logo depois.
Simultaneamente, Flavio Briatore havia entrado na justiça contra a própria Minardi exigindo os 600 mil dólares que restavam de multa. Na sexta-feira anterior ao GP da França, os boxes e os caminhões da equipe foram lacrados pela justiça francesa e Giancarlo Minardi teve de correr com seus advogados para garantir que a estrutura estivesse disponível para o sábado. Deu certo e a Minardi conseguiu participar da corrida.
No fim, Briatore e Minardi entraram em acordo, a antiga multa de 600 mil foi perdoada e Flavio ainda pagou um milhão de indenização por ter forjado a quebra de contrato da Mugen-Honda. No fim, tudo ficou sossegado. Mas fica claro aí quem foi o vencedor. O carcamano é uma raposa.
1- MICHELIN NO GP DOS EUA DE 2005
Bibendum ficou inchado de vergonha. Fornecedora nenhuma passou mais vergonha na história do automobilismo do que a fabricante francesa de pneus Michelin naquele tragicômico 19 de junho de 2005, data do Grande Prêmio dos Estados Unidos mais polêmico de todos os tempos.
Tudo começou quando a besta do Ralf Schumacher cumpriu seu ritual anual de se arrebentar na curva 13 do circuito misto de Indianápolis. Para quem não sabe, aquela era a curva 1 do circuito oval percorrida no sentido inverso, uma das melhores ideias que a Fórmula 1 já teve. Só que o Schumacher menor, piloto da Toyota, tinha uma séria dificuldade cognitiva para atravessar corretamente aquele trecho. Bastava apenas um pneu mais ou menos para que o alemão de simpatia pouco contagiante terminasse no muro.
Após o acidente do Ralf, ocorrido num treino livre de sexta, a Michelin parou para investigar o que havia acontecido. A conclusão foi estarrecedora: o pneu francês, por alguma razão provavelmente relacionada à construção, era incapaz de aguentar as altas forças aplicadas sobre ele na curva 13. Mais cedo ou mais tarde, ele explodiria. E isso aconteceria com mais pilotos. Se nada fosse feito, bastante gente que utilizasse os compostos franceses terminaria o domingo no hospital.
A Michelin tornou seu drama público. Seus representantes, capitaneados pelo esquálido Pierre Dupasquier, tentaram algumas soluções perante a FIA e Bernie Ecclestone, como a implantação de uma chicane na curva 13 e a importação emergencial de novos pneus. A organização deu risada da cara dos franceses, alegando que seria injusto com a Bridgestone, que havia feito tudo certo até então, tomar alguma medida drástica tão rapidamente.
Então, a Michelin decidiu não participar da corrida. Ela orientou todas as suas equipes – nada menos do que sete das dez inscritas na temporada – para que completassem apenas a volta de apresentação e retornassem aos boxes antes mesmo da largada. Muito se discutiu quem faria isso ou não e alguns pilotos, como David Coulthard, expressaram que queriam largar normalmente. Mas o temor do pneu explodindo na curva 13 falou mais alto. Todos os carros equipados com pneus Michelin entraram nos boxes e recolheram para a garagem.
O resto foi aquilo lá que todo mundo viu. Apenas a Ferrari e as miseráveis Jordan e Minardi largaram e protagonizaram um desfile tão deprimente quanto bizarro. 80 mil pessoas presenciaram uma corrida farsesca, onde não houve briga, mas apenas uma burocrática quilometragem que deveria ser completada para garantir os pontos, valiosíssimos para as duas equipes pobres. Alguns espectadores enfurecidos arremessavam pedras, garrafas, latas Coors ou hambúrgueres na pista. Merecido.
Tudo graças à Michelin. Não só as sete equipes tinham muito para reclamar, mas uma Fórmula 1 inteira.