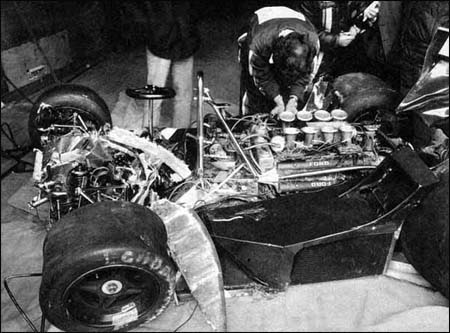Lá do começo, a gente já percebe se o sujeito se tornará astronauta, engenheiro, cabeleireiro ou piloto de corrida
É muito provável que, antes de termos nascido, todos nós tenhamos tido de passar por uma fila etérea onde alguma alma barbuda, bondosa, coberta com uma túnica em tons pastel e adornada com uma auréola cintilante nos forneceu as características que de alguma forma nos diferenciou aqui na vida terrena. Machado de Assis certamente dormiu na fila do “escrever bem”, Pelé virou amigo do cara da barraca de “jogar bola” e Leandro Verde, confesso, se esbaldou no guichê de “divagar besteiras”.
Depois desse procedimento angelical e burocrático, cada um de nós desceu à bola azulada com alguma missão, objetivo, utilidade, talento ou o que quer que seja. Os desígnios sobrenaturais são certeiros e não falham nunca, ou você acha que Machado se daria melhor como atacante do Santos do que como escrevinhador? E nem adianta insistirmos em contrariar o que já foi decidido lá atrás, pois certamente nos daremos mal. Quem nasceu para artista plástico diletante jamais se tornará um médico, engenheiro ou advogado bem-sucedido, por mais que mamãe, papai e o Max Gehringer insistam.
(Portanto, caro jovem leitor que ainda não sabe o que vai fazer quando tiver de entrar na faculdade, não caia na burrice de buscar apenas aquilo que “dá mais dinheiro”. Se você odeia o que faz, odeia os seus colegas de profissão, não tem o menor interesse em sua profissão fora do horário de expediente e não vê a hora de se aposentar, não há bilhão no mundo que te salve da mediocridade e da frustração. Não seja idiota. Se você quer ser dançarino de balé ou sociólogo maconheiro, vá em frente e ignore as críticas da sociedade)
Geralmente, a gente já forma as primeiras ideias do nosso futuro ainda na infância. Uma criança que odeia ir para a escola só poderá tomar dois caminhos, o de jogador de futebol ou o de instrutor de autoescola. Seu primo de sete anos que costuma desmontar carrinhos e montar castelos de Lego certamente virará engenheiro ou um nerd estranho qualquer das exatas. A menininha de cachinhos que adora cuidar de animaizinhos já andou meio caminho para se tornar uma bióloga que abraça árvores e enche o saco de todos os onívoros. E por aí vamos.
Destaco aí um grupo, o das crianças que adoram o perigo e a emoção. Você já imagina que aquele garoto peralta que pula muros, sobe nas árvores mais altas, enfrenta ladeiras assassinas com seu carrinho de rolimã e frequentemente visita o hospital com alguns ossinhos estropiados provavelmente não se tornará um enfadado funcionário público afeito a rotinas e previsibilidades.
Alguns se tornam paraquedistas, outros viram alpinistas, os mais endinheirados acabam enveredando para o automobilismo. Quase todos os pilotos profissionais que me vêm à mente começaram sua carreira ainda na infância, com pequenos e desafiadores karts. Ganham corridas, perdem outras, quebram braços e pernas em acidentes, sobem de categorias, ganham mais corridas, amadurecem e, num belo dia, acordam como contratados de Fórmula 1. Dali em diante, o negócio é tentar virar o maior de todos, absorvendo o maior número de troféus e dólares possível.
Os pilotos de Fórmula 1, antigos ou contemporâneos, são pessoas um tanto diferentes das demais. Ansiosos e nervosos, não são do tipo que poderiam passar anos a fio morando em um mosteiro e cuidando de cabras no Himalaia. Também não costumam ser intelectuais excelsos, não conseguindo ler mais do que pequenos artigos da Autosport. Alguns deles, na verdade, são verdadeiros autistas em se tratando de mundo real, interessando-se apenas no que se passa dentro da pista. Se você perguntar a todos que correram em 2013 a qual partido o presidente americano Barack Obama pertence, imagino que apenas uns três ou quatro saberiam responder corretamente.
Nenhum corredor, ao meu ver, representou melhor o arquétipo apresentado acima do que Ayrton Senna. O tricampeão brasileiro era um piloto completo, tanto pelo bem como pelo mal. Precoce, inquieto, corajoso, arrogante, genial, compenetrado, egocêntrico, indiferente ao que não tinha motor e até meio vazio em questões terrenas, Senna era um cara tão apegado à velocidade que parecia se sentir totalmente deslocado quando exposto a qualquer outro ambiente. Fora da Fórmula 1, ele só aparentava se divertir de verdade quando andava de jet-ski ou pilotava seus caríssimos aviões miniaturizados. O perigo e a rapidez eram seus combustíveis, sua verdadeira razão de viver.
Não por acaso, ele morreu correndo. E alguém imaginaria algo diferente?
Tenho a impressão de que Ayrton não teria a mesma facilidade de lidar com a aposentadoria do que outros colegas. Em 1958, Juan Manuel Fangio abandonou a temporada de Fórmula 1 e cancelou sua inscrição para as 500 Milhas de Indianápolis após perceber que estava meio de saco cheio de arriscar sua vida em um negócio no qual já não precisava provar mais nada. Nas décadas seguintes, se tornou embaixador da Mercedes-Benz na Argentina e nunca mais disputou corrida oficial de coisa alguma. Dos melhores volantes de todos os tempos, Fangio era um cara que enxergava vida fora das pistas e não veria o menor problema em vivê-la.
Niki Lauda abandonou a Fórmula 1 duas vezes, uma delas por um impulso besta de alguém que “não tinha mais humor para andar em círculos” e outra de forma pensada e sensata. Comandou uma empresa aérea, trabalhou para várias equipes de F-1 e continua mantendo uma vida ativa até hoje. Nelson Piquet, que sabia transitar entre a diversão e o trabalho duro como ninguém, continuou disputando corridas mesmo após o acidente em Indianápolis, mas passou a se dedicar mais às suas empresas, à família e a outros assuntos que não respingavam óleo. Alain Prost, Jackie Stewart, Jody Scheckter, Mario Andretti e outros também abandonaram as corridas sem grandes dramas e seguiram levando suas vidas adiante. Embora todos tenham sido irresponsáveis ensandecidos em suas juventudes, amadureceram e descobriram que o eterno perigo à espreita não necessariamente é a única fonte de prazer que existe.
Senna? Eu sinceramente não o consigo imaginar como um pacato comentarista de corridas ou dono de fazendas no interior paulista. Não o vejo como um velhinho que curtiria a tranquilidade do sítio ao lado dos netos. Netos?
Alain Prost e Nelson Piquet sempre o acusavam de só pensar em Fórmula 1, sendo absolutamente incapaz de aproveitar verdadeiramente a vida ou conversar sobre qualquer outro assunto. Eles podem ser inimigos maledicentes, mas não me pareciam mentirosos. Senna era diferente, um aventureiro de corpo e alma, um cara que levava tudo ao limite e que só seria derrotado se o próprio limite assim o determinasse. De forma geral, o destino desse tipo de gente costuma ser um só, aquele mesmo que você está pensando.
Mas Senna não foi o único. Outro indivíduo que é meio assim é Michael Schumacher.
O alemão nunca foi um cidadão qualquer. Diferente de Ayrton pela personalidade mais gélida, ele se aproximava de seu ídolo pela dedicação extrema, pelo espírito de luta, pelo amor ao desafio e pela total incapacidade em parar quieto. Em 1995, após ganhar seu segundo título na Fórmula 1, Schumacher afirmou que “deverá correr mais quatro ou cinco anos”. Ou seja, lá pelos idos de 1999 ou 2000, ele estaria abandonando as pistas com pouco mais de trinta anos de idade se seu discurso se cumprisse à risca.
Nunca. Mesmo com o nascimento da filhota Gina-Maria e o acidente de Silverstone, Michael jamais teve algum plano sério de se aposentar. Graças a isso, conseguiu ganhar mais cinco títulos mundiais e se tornar um dos maiores nomes da história do esporte mundial. É verdade que, logo após vencer o Grande Prêmio da Itália de 2006, Schumacher anunciou que não mais competiria no esporte a motor e finalmente sossegaria um pouco. Porém, como visto no parágrafo acima, suas palavras pouco valem nesse sentido.
Em 2008, meio entediado com a aposentadoria, Michael decidiu se aventurar nas corridas de motociclismo. Os resultados foram poucos e as quedas, inúmeras. A pior delas, ocorrida em teste com uma Honda CBR 1000 na pista espanhola de Cartagena, comprometeu de forma permanente a artéria cerebral esquerda e ainda lesionou várias outras partes do corpo do alemão. Já era hora de dizer chega, né?
Mas não. Michael Schumacher queria voltar à Fórmula 1 e continuar fazendo a única coisa que sabe na vida, arriscar a própria pele por puro prazer. Em 2009, só não assumiu o lugar vago do convalescente Felipe Massa no Grande Prêmio da Europa porque suas condições físicas ainda não eram as melhores por conta exatamente do acidente de Cartagena. Meses depois, prestes a completar 41 anos de idade, o heptacampeão foi anunciado como primeiro piloto da Mercedes para a temporada de 2010.
O resto é história. Em três anos com os prateados, Schumacher não conseguiu sequer acompanhar o companheiro Nico Rosberg na maioria das corridas e obviamente não passou nem perto de repetir as vitórias do passado. No entanto, mesmo que em doses homeopáticas, seguiu fazendo apresentações dignas de um dos monstros do automobilismo. A ultrapassagem dupla no Grande Prêmio do Canadá de 2011, a briga encarniçada com Lewis Hamilton em Monza no mesmo ano e a inacreditável pole-position obtida no circuito de Mônaco em 2012, quando já tinha mais de 43 anos de idade, foram alguns dos pontos altos de um cara que nem mesmo o tempo conseguia barrar.
Sua segunda aposentadoria, por incrível que pareça, ocorreu meio que a contragosto. Antes de anunciar que não competiria em 2013, Michael Schumacher se ofereceu para correr no lugar de Felipe Massa na Ferrari e chegou até mesmo a bater um papo com a Sauber. Porém, quando viu que as portas de Maranello não estavam abertas e percebeu que nem mesmo Peter Sauber e Monisha Kaltenborn estavam assim tão empolgados com a possível contratação, Michael percebeu que era hora de pular fora. Da Fórmula 1, não do desafio.
O alemão, assim como Senna, é um cara que precisa satisfazer constantemente seus ímpetos mais agressivos. Fora do automobilismo, Schumacher continuou praticando suas atividades de alto risco, como o kart e o rodeio. Mesmo quarentão, bilionário e com dois filhos adolescentes, ele não estava nem um pouco disposto a acalmar, a trocar seus hábitos agitados por uma vida pacata numa mansão suíça. Porque é de agitação e de perigo que Michael precisa. Não dá para imaginá-lo sem essas coisas. Não dá para imaginá-lo vivendo sem isso.
Veja como são as coisas. Hoje, 6 de janeiro de 2014, primeiro dia do ano para o Bandeira Verde, Michael Schumacher se encontra preso a uma cama no hospital de Grenoble em estado muito grave. Faz oito dias que o alemão, que completou 45 anos há pouco, sofreu um estúpido acidente de esqui na estação de Meribel, no sudeste da França. Após duas cirurgias realizadas no cérebro, a situação foi estabilizada, embora ainda continue longe de ser considerada positiva. Por ora, ainda não há previsão de melhora.
Não quero entrar em detalhes sobre o acidente, vocês já devem estar carecas de ler sobre isso. O texto é apenas uma torcida pessoal. Caras como Michael Schumacher precisam estar vivos para estarem vivos, se é que me entendem. E para alguém que se metia em tantas coisas arriscadas e que foi praticamente arrancado da Fórmula 1 no fim de 2012, permanecer inerte em uma cama de hospital é a coisa mais triste do mundo.
Senna, que era um sujeito explosivo, acabou morrendo em atividade. Que Schumacher, tão explosivo quanto, drible a morte como sempre fez, fique bem o mais rápido possível, saia logo dessa porcaria de cama e volte a se ralar em bicicletas, karts, cavalos ou esquis, cumprindo estritamente os desígnios que aquele velhinho barbudo lá do firmamento lhe imputou lá no comecinho de 1969.