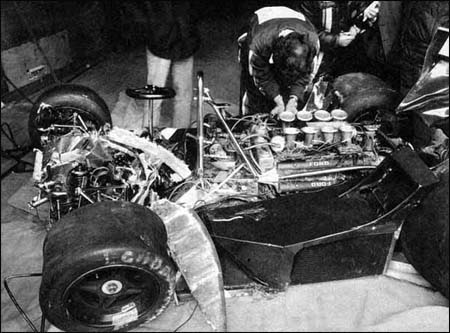Mais um capítulo da série sobre a melhor equipe de todos os tempos, a Onyx Grand Prix. Antes de falar do filé mignon, que é a equipe de Fórmula 1 que competiu entre 1989 e 1990, vamos primeiro contar como tudo começou. Eu sei que bilhões de pessoas não estão interessadas em saber por que Mike Earle quis abrir uma escuderia do que quer que seja ou seus resultados na Fórmula 4 quirguiz, mas não tem problema. Aos que estiverem interessados, boa sorte.
Parei aonde? Ah, sim, na transição da Fórmula 2 para a Fórmula 3000. Calma que falta pouco.
Em 1985, a Onyx iniciou sua vida na Fórmula 3000 como uma das equipes favoritas ao primeiro título da história da categoria. Como todos os carros utilizariam motores Cosworth, o negócio ficaria mais ou menos nivelado e não haveria mais nenhuma Ralt-Honda para despejar água na cerveja. A escuderia de Mike Earle, contudo, contava com algumas boas vantagens. Emanuele Pirro continuaria na equipe e isso significaria que a Marlboro seguiria despejando sua grana interminável nos cofres de Littlehampton. Além do mais, a March continuaria prestando seu apoio oficial à equipe, o que significava que a galera da Onyx seria a primeira a ser beneficiada com atualizações e assistência técnica. Por fim, seu segundo piloto seria o conde Johnny Dumfries, que havia vencido catorze corridas no campeonato inglês de Fórmula 3 no ano anterior. Ou seja, a Ralt poderia até continuar sendo a favorita, mas a Onyx tinha tudo para desafiar a então rainha do automobilismo de base.
Pirro e Dumfries completaram mais de seis mil quilômetros com chassis de Fórmula 2 e Fórmula 3000 durante a pré-temporada e iniciaram o ano com um pé à frente da concorrência. Os dois apareceram como candidatos à vitória logo na primeira etapa do ano, a de Silverstone. Sob a típica chuva inglesa, Emanuele cavou um terceiro lugar no grid de largada, logo à frente do conde escocês. O italiano pulou para a ponta ainda antes da primeira curva, mas foi ultrapassado pela Ralt de Thackwell logo em seguida. Seu March não andou nada dali em diante e Pirro acabou terminando apenas em sétimo. Dumfries sofreu um acidente na segunda volta e abandonou logo de cara.
Em Thruxton, Emanuele Pirro obteve sua primeira vitória na temporada. O italiano largou da terceira posição e arriscou largar com pneus slick na pista encharcada. A chuva acabou ainda no começo da corrida e todos os outros pilotos tiveram de parar nos boxes para se livrar dos pneus de chuva, entregando a liderança de presente a Pirro, que só teve de evitar imbecilidades pessoais e retardatários imbecis para vencer. Johnny Dumfries rodou sozinho na primeira volta e caiu para a última posição, mas se recuperou e finalizou em sétimo.
Na pista portuguesa de Estoril, a Fórmula 3000 dividiria o paddock com os narizes empinados da Fórmula 1 pela primeira vez em sua história. Emanuele Pirro e Johnny Dumfries largaram lá atrás e somente o italiano, que teve problemas de motor nos treinos, chegou ao fim numa razoável quarta posição. Aos poucos, ficava claro que o nobre escocês não era essa Coca-Cola que todos os barbudos de Edimburgo e Glasgow se derretiam em elogiar.
A quarta etapa foi realizada em Vallelunga e os italianos compareceram em massa para torcer pelo carinha da Marlboro. Emanuele Pirro largou em terceiro e passou boa parte do tempo em quarto, apenas comboiando os carros à frente. Calmamente, ele ultrapassou um por um e assumiu a liderança para vencer pela segunda vez em quatro corridas. Com 21 pontos, o italiano estava empatado com John Nielsen na primeira posição do campeonato.
O cara estava realmente com tudo. Na maldita pista citadina de Pau, mais apertada do que a calça da tia, Emanuele Pirro marcou a pole-position com um tempo apenas seis centésimos mais rápido que o de Mike Thackwell. Largou bem, segurou bem os ataques de John Nielsen e parecia vir para mais uma vitória tranquila até faltarem dez voltas para o fim. O March vermelho e branco começou a ter problemas e foi ultrapassado facilmente pelo alemão Christian Danner, que venceria a corrida. Pirro teve de se contentar com o segundo lugar e com a liderança isolada do campeonato, como se isso significasse pouco.
Essa foi a primeira corrida sem Johnny Dumfries, que não só não estava conseguindo acompanhar o companheiro como também não tinha levado dinheiro algum. A partir de Pau, a Onyx o substituiu pelo sueco naturalizado suíço Mario Hytten, já citado neste blog. O estreante largou lá atrás e abandonou ainda nas primeiras voltas.
A sexta etapa do campeonato foi realizada em Spa-Francorchamps. E aqui vale contar uma historinha. Naquele fim de semana, a Fórmula 3000 voltou a dividir espaço com a Fórmula 1. Nos treinos livres da categoria mais rica, alguns trechos recém-asfaltados começaram a se desmanchar após a passagem de alguns carros. Buracos apareceram, pedaços de asfalto começaram a se espalhar na pista, o negócio ficou feio demais. A turma da Fórmula 1 achou aquilo uma obscenidade e decidiu não levar o evento adiante, adiando sua realização para o mês de setembro. Menos frescurentos, os caras da Fórmula 3000 fizeram uma rápida reunião após um dos treinos livres e decidiram correr de qualquer jeito. Ponto para a “três mil”.
Emanuele Pirro largou da quarta posição e se envolveu numa briga encardida com Philippe Streiff pela terceira posição até bater no rival e abandonar a prova com a suspensão estourada. Mario Hytten, para variar, largou lá atrás e abandonou ainda no começo. Mesmo com o resultado, Pirro ainda era o líder do campeonato. Foda era a aproximação de Mike Thackwell, que ganhou a corrida e se aproximou bastante do primeiro piloto da Onyx.
Mas Emanuele Pirro não estava nem aí. Dias antes da corrida de Spa-Francorchamps, ele recebeu um convite para fazer sua estreia na Fórmula 1 no GP do Canadá substituindo François Hesnault na Brabham. O italiano topou no ato e chegou até a fazer um jantar de despedida com a Onyx logo após a corrida belga. Porém, o imprevisível Bernie Ecclestone decidiu voltar atrás no convite e preferiu contratar Marc Surer para a vaga aberta de companheiro de Nelson Piquet. Após ficar sabendo que não correria mais pela Brabham, Pirro teve de mover montanhas para reatar seus contratos com a Marlboro e a Onyx.
Conseguiu, mas sua sorte parece ter desaparecido de vez a partir daí. Dijon foi o pior fim de semana de Emanuele Pirro até então: oitava posição no grid de largada e abandono com problemas de dirigibilidade. Sem pontuar, ele acabou vendo Mike Thackwell igualar os seus trinta pontos. Mario Hytten partiu em 15º e terminou em 12º. Pelo menos, o dinheiro dos patrocinadores suíços estava entrando numa boa.
A etapa seguinte foi a de Enna-Pergusa, aquela espetacular pista ovalada cortada por chicanes. Por conta das altíssimas velocidades, a Onyx optou por simplesmente suprimir as asas dianteiras e instalar uma asa traseira no melhor estilo superspeedway. Emanuele Pirro provou que a decisão de sua equipe foi correta ao obter a segunda posição no grid de largada. Infelizmente, a corrida não foi tão boa assim. O calor siciliano de quase 40°C destruiu motores, pneus e organismos humanos e Pirro foi um dos poucos que não apresentaram problemas, tendo liderado até faltarem poucas voltas para o fim, quando Mike Thackwell se aproximou e fez a ultrapassagem. Com isso, Emanuele acabou perdendo a liderança do campeonato. Se alguém se importa com Mario Hytten, ele marcou seus primeiros pontos na temporada com um quinto lugar.
Em seguida, Fórmula 3000 em Österreichring, outro circuito mítico. Emanuele Pirro conseguiu o segundo lugar no grid, mas largou mal e perdeu posições já na primeira volta. Sem ter um grande carro, ele ainda foi ultrapassado por Ivan Capelli, John Nielsen e Lamberto Leoni, terminando apenas na quarta posição. Hytten largou no meio do pelotão e por lá ficou.
Faltavam apenas duas etapas para o fim do campeonato e Emanuele Pirro tinha 36 pontos contra 39 de Mike Thackwell. Logo atrás dos dois, com 34 pontos, vinha um surpreendente Christian Danner, que competia com uma estrutura muito mais pobre do que a Onyx ou a Ralt. Pirro não tinha o direito de bobear. Se quisesse ser campeão, teria de segurar o ímpeto de Danner e Thackwell. Tarefa fácil? Vai sonhando…
Em Zandvoort, Emanuele garantiu novamente a quarta posição no grid de largada, mas pôs tudo a perder com uma primeira volta desastrosa que o fez cair lá para o fim do pelotão. Graças à pista úmida e aos inúmeros pit-stops, Pirro ainda conseguiu se recuperar e terminar em quinto mesmo com uma roda traseira tremendo como vara. No entanto, Danner e Thackwell terminaram nas duas primeiras posições e dispararam de vez na liderança do campeonato. Faltava somente uma corrida, a de Donington Park, e o italiano da Onyx teria de vencê-la e torcer para que seus rivais fossem direto para o inferno.
Na sessão classificatória para o grid de largada, quem se deu muito bem foi justamente Mario Hytten, aquele piloto da Onyx que não tinha feito nada de mais até ali. O suíço conseguiu um ótimo terceiro tempo, superado apenas por Mike Thackwell e John Nielsen. Emanuele Pirro fez apenas o quinto tempo, ficando imediatamente atrás do rival Christian Danner. O italiano sabia que, longe da primeira posição e largando atrás de seus concorrentes, o título parecia apenas um belo e distante sonho.
A única saída para ele seria enfiar a faca nos dentes e pilotar como um lunático do início ao fim. E foi o que ele fez: largou como um foguete e pulou para a segunda posição antes mesmo da primeira curva. Seu único crime foi ignorar a presença do rival Thackwell logo ao lado. Os dois bateram, o carro de Pirro se descontrolou, atingiu o companheiro Hytten e escapou rumo à caixa de brita. Hytten sobreviveu e, de forma surpreendente, assumiu a liderança.
Pirro até tentou voltar para a corrida, mas o pneu traseiro esquerdo e a suspensão estavam comprometidos e o cidadão teve de encostar o carro metros adiante. Quem salvou a honra da Onyx foi justamente Mario Hytten, que assumiu a ponta e ficou lá até o final da prova, quando foi ultrapassado por Christian Danner. O alemão venceu a corrida e o título, mas Mario não tinha motivos para reclamar de sua segunda posição. Um pequeno consolo para uma equipe que, mais uma vez, viu o título escorrer pelos dedos.
Emanuele Pirro terminou o ano de 1985 na terceira posição com 38 pontos. Danner foi o campeão com 51 e Mike Thackwell somou 45. Como consolo para o italiano, o fato de ter sido o piloto que mais liderou voltas na temporada. Lógico que não foi um ano ruim para a Onyx, mas perder novamente da Ralt e ficar atrás de um March “cliente” não estava nos planos. Para uma equipe que tinha dinheiro e uma estrutura técnica impecável, não dava para ficar se contentando apenas com vitórias e chorumelas.
Então vamos para 1986. “Porra, você vai ficar contando historinha de Fórmula 3000?”. Vou. O leitor me conhece bem. E se não conhece, bem, muito prazer, mas gosto mais do automobilismo de base do que da Fórmula 1.
A Fórmula 3000 foi um grande sucesso em 1985 e o ano a seguir parecia ainda mais promissor. O Brasil, mas olha só, foi premiado com duas etapas no final da temporada, mas infelizmente nenhuma acabou sendo realizada. Após ser praticamente extirpada da Fórmula 2 em 1984, a Honda anunciou que estaria de volta como fornecedora exclusiva de motores para a Ralt. Com relação à lista de inscritos, mais de 25 equipes (!) confirmaram participação na temporada. O certame deu certo. Bernie Ecclestone é um gênio.
Empolgada com o crescimento da categoria, a Onyx anunciou que inscreveria três carros para todas as corridas. Sem encontrar nenhuma vaga na Fórmula 1, Emanuele Pirro foi anunciado novamente como primeiro piloto da equipe. “Vou ganhar essa porra”, disse ele em linguajar mais polido. Nenhum dos lados, de fato, podia reclamar dessa renovação. Pirro teria mais uma chance de ganhar o tão sonhado título e a Onyx embolsaria mais algum com a Marlboro, que continuava patrocinando o piloto italiano.
Os outros dois condutores não são exatamente muito conhecidos. Um deles era o canadense John Jones, um gordinho de apenas 20 anos de idade que havia vencido um título da IMSA no ano anterior. Podia não ser um herdeiro direto do talento de Gilles Villeneuve, mas ao menos contava com o apoio das ferramentas Snap-On e dos tratores Caterpillar. O outro era o americano Cary Bren, filho do bilionário do ramo imobiliário Donald Bren e discreto piloto de Fórmula Vee. Como se vê, os moleques da América do Norte só foram integrados à Onyx por conta de seus dotes financeiros. Esqueçam eles, portanto.
A equipe de Mike Earle foi a primeira a receber os novos chassis March 86B e Emanuele Pirro cansou de andar com eles na pré-temporada. A trabalheira rendeu frutos já na primeira etapa, realizada em Silverstone. Pirro largou apenas em sexto e teve um mau início de corrida, mas recuperou-se e chegou a assumir a liderança após ultrapassar Russell Spence e Volker Weidler. Só perdeu a vitória quando foi superado por Pascal Fabre instantes antes da prova ser interrompida por conta de um acidente. O segundo lugar não foi um resultado dos sonhos, mas paciência, né? Cary Bren e John Jones largaram no fundão e não saíram de lá.
Vallelunga foi a segunda etapa da temporada. Emanuele Pirro foi bem nos treinos e largou em terceiro, atrás apenas de Ivan Capelli e do estreante Mauricio Gugelmin, um catarinense que tinha vencido tudo no automobilismo até então. O italiano ultrapassou Gugelmin e foi ultrapassado por Fabre ainda no início, mas depois se recuperou e deixou o francês para trás, assumindo a segunda posição. Uma sequência interminável de retardatários permitiu que Pascal se aproximasse e ultrapassasse novamente o italiano da Onyx na última volta. Emanuele tentou roubar o segundo lugar de volta, mas não conseguiu e teve de se contentar com o último degrau do pódio. De qualquer jeito, a competitividade estava lá. Só faltava a vitória. E como se alguém se importasse, John Jones e Cary Bren não se qualificaram para a prova.
Em Pau, Emanuele Pirro repetiu o feito de 1985 e marcou a pole-position com um tempo sete centésimos mais rápido que Mike Thackwell. O italiano largou bem e liderou várias voltas até seu motor apresentar problemas. Ultrapassado por Thackwell, restou a ele levar o carro até o fim na segunda posição. Com os três pontos do segundo lugar de Silverstone (apenas a metade, por conta da bandeira vermelha), os quatro pontos de Vallelunga e os seis de Pau, o italiano assumiu a liderança do campeonato com 13 pontos. O equilíbrio era muito mais em 1986 do que no ano anterior. Ele precisava de uma vitória urgentemente.
Ela não veio em Spa-Francorchamps, quarta etapa do campeonato. Emanuele bem que tentou, conseguindo a segunda posição no grid de largada apesar de problemas no santantônio. Os pontos, porém, não vieram. Ele assumiu a liderança após excelente largada, mas cometeu um erro e caiu para quarto. Mais adiante, entrou nos boxes para tentar corrigir algumas incômodas vibrações na traseira (ui) e acabou terminando apenas em 19º. Dessa forma, Pirro continuava sendo o mesmo cara de 1985, incapaz de traduzir sua velocidade em resultados. Vale notar que o fim de semana belga foi, também, o último de Cary Bren na Onyx. O americano não conseguiu se classificar para três corridas e Mike Earle preferiu mandá-lo para o chuveiro. Você pode até ser trilionário, mas não serve como peça entre o volante e o banco.
Em Imola, a Onyx decidiu inscrever apenas os carros de Pirro e John Jones. O italiano teve um fim de semana ruim como poucos: nona posição no grid de largada e motor quebrado ainda na terceira volta. Fora dos pontos novamente, Emanuele acabou ficando seis pontos atrás de Capelli no campeonato. John Jones foi ainda pior e nem conseguiu se classificar.
O inferno astral de Emanuele Pirro continuou em Mugello, sexta prova da temporada. 12º colocado no grid, o cara teria de se virar para conseguir recuperar posições numa pista não muito boa para ultrapassagens. Felizmente para ele, alguns caras à sua frente abandonaram e Pirro ainda salvou um pontinho do sexto lugar. Muito pouco para quem estava brigando pelo título, mas um alívio para quem tinha passado duas provas seguidas sem pontuar.
Em Enna-Pergusa, uma novidade. A Onyx voltou a inscrever um terceiro carro, que seria pilotado pelo sul-africano Wayne Taylor. Quem acompanha o automobilismo americano conhece bem esse nome. Taylor não fez muita coisa nos monopostos, mas obteve vitórias e alguma fama nas corridas ianques de protótipos. Hoje em dia, é chefe de equipe de seu próprio filho na Grand-Am.
Sem conhecer nada do circuito que gira em torno do lago Pergusa, Wayne acabou nem se classificado para a corrida. Emanuele Pirro, ainda em fase terrível, obteve apenas a 13ª posição no grid de largada, apenas três lugares à frente do companheiro John Jones. Por incrível que pareça, na corrida, Jones ultrapassou Pirro e terminou duas posições à sua frente. Ambos, porém, ficaram muito longe da zona de pontuação. Naquela altura, tudo indicava que a briga pelo título ficaria restrita a Pierluigi Martini, Ivan Capelli e Luis Perez-Sala.
Como Taylor foi muito mal, a Onyx preferiu substituí-lo pelo inglês Russell Spence para as corridas restantes do campeonato. Spence iniciou o campeonato pela Eddie Jordan Racing e chegou a liderar a corrida de Silverstone, mas não conseguiu mais nada dali em diante. Uma curiosidade sobre esse cidadão: em novembro de 2011, muito depois do fim de sua carreira, Russell foi preso acusado de participar de um cabeludo esquema de fraude em que empresas-fantasma eram abertas apenas para captar crédito que não seria pago. Na Fórmula 3000, no entanto, o cara era razoavelmente comportado.
A presença de Spence deve ter revigorado Emanuele Pirro, que andou muito bem no treino oficial e se classificou na quinta posição. O próprio piloto britânico também não foi mal e obteve um bom décimo lugar no grid de largada. Na corrida, Emanuele até fez uma boa ultrapassagem sobre Pierluigi Martini, mas não chegou ao fim por causa de problemas de alimentação. Spence bateu com Mario Hytten, mas terminou em 11°. John Jones… Sei lá.
Em seguida, Birmingham. O único circuito de rua da história da Inglaterra receberia sua primeira prova de Fórmula 3000. Ainda pagando alguns pecados, Emanuele Pirro classificou-se apenas em 13º. O destaque mesmo foi o surpreendente John Jones, que calou minha boca e galgou uma sétima posição no grid de largada. Na corrida, Pirro bateu em uma das retas na 14ª volta e os dois coadjuvantes da Onyx acabaram salvando a honra da equipe: Spence fez meio ponto (corrida interrompida por causa de chuva) e Jones terminou em sétimo. Naquele dia chuvoso, as chances matemáticas de título para Emanuele Pirro acabaram de vez. Faltando apenas duas corridas, ele poderia até vencer ambas, mas ainda perderia o caneco para Capelli por desempate de terceiros lugares…
E não é que as coisas começaram a melhorar dali em diante? A penúltima etapa foi realizada naquela ridícula versão Bugatti do circuito de Le Mans. Muito engraçadinho, Emanuele Pirro marcou sua primeira pole-position desde a etapa de Pau, ao passo que Russell Spence e John Jones dividiram a sétima fila. Na corrida, o filho da mãe do italiano sumiu na liderança e venceu pela primeira vez na temporada. No pódio, nem comemorou muito. E como poderia?
A última etapa da temporada foi realizada num circuito ainda pior, Jarama. Mais uma vez o desgraçado do piloto italiano conseguiu a pole-position, demonstrando ser um especialista em resultados inúteis. Durante a prova, Emanuele Pirro teve o bico danificado por John Nielsen e ainda foi ultrapassado por Pierluigi Martini, que precisava desesperadamente da vitória para tentar roubar o título de Ivan Capelli. Após 43 voltas, a corrida foi interrompida por causa da chuva. Na relargada, com a pista já seca, Pirro relargou muito bem, tomou a liderança e ali permaneceu até o fim.
Com a segunda vitória consecutiva, Emanuele acabou somando 32 pontos, sete a menos que o campeão Capelli, e terminou com o vice-campeonato. John Jones marcou um em Pau e Russell Spence fez apenas meio ponto em Birmingham. Mais uma vez, a Onyx chutava a bola na trave.
Será que as coisas mudariam em 1987? Você vai saber no próximo capítulo.