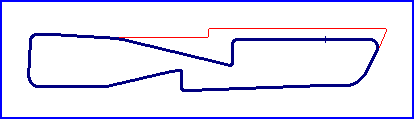A corrida de Las Vegas, última etapa da temporada 2011 da Fórmula Indy, está dando o que falar. A premiação única de cinco milhões de dólares ao vencedor que não compita normalmente na categoria gerou interesse em muita gente da NASCAR e das categorias de protótipos e carros-esporte. Como apenas cinco pilotos serão especialmente convidados pela organização da Indy, os interessados terão de ganhar o coração de Randy Bernard e companhia mostrando seus dotes e seus pomposos currículos. Não será qualquer JJ Yeley que será chamado para correr.
Quem serão os cinco sortudos? Muitos fatores serão cuidadosamente considerados na escolha. Não adiantará nada chamar algum astro da Sprint Cup que não consiga uma permissão especial de sua equipe. Sonhar com alguém da Fórmula 1 é absolutamente inútil. E nada de Valentino Rossi, Sebastien Loeb, Travis Pastrana ou Justin Bieber. Diante de inúmeras limitações contratuais, temporais e financeiras, os organizadores terão de conseguir o melhor.
Eu fiz minha wishlist. Tentei ser o mais realista possível: deixei de lado os pilotos da Fórmula 1 e também algumas estrelas que nunca se interessaram por monopostos, como Jimmie Johnson e Kevin Harvick. Coloquei na lista pilotos que já fizeram sucesso na Indy, que estão em outra e que não estariam fechados para um convite. Portanto, não lamentem se seu nome preferido está de fora.
5- TONY STEWART
O velho Tony Stewart, dos cinco nomes aqui, seria o menos provável. Aos 39 anos, barbudo e gordo, o americano já está com a vida feita na NASCAR Sprint Cup, categoria na qual foi bicampeão em 2002 e 2005. Nas últimas temporadas, ele acabou ficando um pouco à margem do sucesso acachapante de Jimmie Johnson e da ascensão de nomes como Kyle Busch, Clint Bowyer e Denny Hamlin. Ainda assim, o homem da Home Depot é o homem da Home Depot e sua torcida é uma das maiores dos Estados Unidos.
Stewart nunca negou a ninguém que sua maior frustração na vida foi não ter vencido as 500 Milhas de Indianápolis, corrida que ele considera até mais importante do que a Daytona 500, outra ausência importante de sua extensa lista de trunfos. Até 2009, ele dizia que não acharia ruim se recebesse uma boa oportunidade para correr a Indy 500, mas ela nunca veio. A corrida de Las Vegas não representaria lá grandes coisas para alguém que nada em dinheiro e vitórias, mas não me assustaria se ele aceitasse de bom grado um convite de Randy Bernard.
Afinal, além de ser um dos astros da NASCAR, Tony Stewart foi um dos melhores pilotos da história da Indy Racing League. Estreante na primeira temporada da categoria, realizada no primeiro semestre de 1996, ele competiu regularmente até 1998, venceu três corridas e se sagrou campeão de 1997. E olha que, nas horas vagas, ele ainda competia na Busch Series, categoria de acesso da NASCAR naqueles tempos.
Após migrar de vez para os stock cars, Stewart ainda fez duas Indy 500, em 1999 e em 2001. Neste último ano, ele ainda competiu no mesmo dia na Coca-Cola 600, a corrida mais longa da NASCAR. Naquele 27 de maio de 2001, ele completou nada menos que 1.100 milhas, ou 1.770 quilômetros. E ele ainda conseguiu o feito de terminar em sexto na Indy e em terceiro em Lowe! Como se vê, disposição não é o problema do cara.
4- JUAN PABLO MONTOYA
Após ser defenestrado da McLaren, o colombiano Juan Pablo Montoya encontrou seu paraíso na NASCAR, categoria onde só corre gente como ele: gordos, glutões e falastrões. Desde o fim de 2006, ele vem competindo na categoria principal pela Chip Ganassi. Os resultados não foram ruins, mas também não fazem jus à sua fama. Após 148 corridas disputadas, apenas duas vitórias nas pistas mistas de Infineon e Watkins Glen foram obtidas. Vitórias em oval, nenhuma.
Até aqui, nada se falou sobre Montoya correndo em Las Vegas. Mas até que as condições são bem propícias para que isso aconteça. A Chip Ganassi, equipe do colombiano na NASCAR e campeã da Indy em 2010 com Dario Franchitti, pretende inscrever um carro extra para a tão esperada corrida e, obviamente, quem irá ocupa-lo será alguém de fora. O retrospecto de JPM em monopostos é impecável: campeão da Fórmula 3000, campeão da CART, piloto de ponta na Fórmula 1 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis. Existe alguém melhor do que ele pra pegar esse carro?
Nos anais da história, Montoya só disputou uma única corrida pela Indy Racing League, exatamente a Indy 500 que ele venceu há onze anos. Sua última corrida na CART foi a etapa de Fontana em 1999. Sua última de monopostos foi o GP dos Estados Unidos de 2006, quando ainda corria na Fórmula 1. O tempo não advoga a seu favor. Mas quem precisa disso quando há uma legião de fãs desejando vê-lo de volta à Indy?
3- MARIO ANDRETTI
Quando foi anunciada a premiação de cinco milhões de dólares destinada a pilotos vindos de fora da temporada regular da Indy, muita gente pensou nos mais diversos nomes. Era piloto da NASCAR para cá, da Fórmula 1 para lá e da ALMS para acolá. De repente, um vovô dos mais respeitados do mundo automobilístico se manifestou, cogitando uma séria possibilidade de participar da corrida. Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 1969 e campeão da Fórmula 1 em 1978, o ítalo-croata Mario Andretti atraiu todos os holofotes para si.
Aos 71 anos, Andretti ainda está em razoável forma e com a disposição de um jovem. E já tem até mesmo quilometragem prévia com o Dallara-Honda que será utilizado na corrida. É verdade que a experiência não foi a melhor de todas, já que seu teste no circuito de Indianápolis em 2003 resultou em uma assustadora pirueta e em alguns minutos vendo estrelas. Mas o fato é que ele não é um neófito no negócio.
Mario Andretti dispensa apresentações maiores. Sua carreira é bem longa e bastante versátil. A aposentadoria veio apenas no fim de 1994, quando ele já tinha 54 anos. E veio unicamente porque Nigel Mansell já havia lhe enchido muito o saco quando ambos dividiram o mesmo teto na Newman-Haas. Posteriormente, ele fez algumas aparições em corridas de protótipos, mas nada muito profissional. Hoje em dia, ele fica lá, dando seus palpites, ajudando o filho a gerenciar a equipe e aconselhando o neto, que não honra muito o sobrenome enquanto dirige. Sua presença em Las Vegas seria uma honra a todo o esporte a motor.
2- SAM HORNISH JR.
Sam Hornish Jr. é exatamente o oposto de Mario Andretti: jovem e muito pouco versátil. Aos 31 anos, há ainda muito chão pela frente, ainda mais em um automobilismo tão flexível como é o norte-americano. Seu problema maior é ter andado bem unicamente em circuitos ovais na época em que correu de monopostos. Não por acaso, Hornish não tem uma única vitória em circuitos mistos ou em carros fechados. Só que Las Vegas é um oval e a Indy é uma categoria de monopostos, e é por isso que ele não pode ser esquecido.
Hornish é um contratado da Penske desde 2004, mas não está correndo na Sprint Cup neste ano. Após três temporadas bem ruins, Roger Penske decidiu rebaixar seu pupilo para a Nationwide Series, onde as coisas aparentam ser um pouco mais fáceis. Até aqui, ele só correu em Daytona e se esborrachou no muro, não terminando a prova. Resumindo: a vida está uma droga e ninguém está feliz com suas performances. Não seria um bom negócio aparecer em Las Vegas apenas para visitar os velhos amigos e andar um pouco lá na frente?
Em outros momentos, surgiram alguns boatos sobre a possibilidade da Penske colocar um carro extra para ele nas 500 Milhas de Indianápolis. Os boatos não se concretizaram, até porque a equipe já está ocupada com três carros. Las Vegas, no entanto, é outra história. Eu realmente não me assustaria se a Penske inscrevesse um quarto carro para ele. Mesmo que Hornish esteja longe de ser meu piloto preferido, não dá para ignorar um cara que foi tricampeão da Indy Racing League e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis.
1- JACQUES VILLENEUVE
O primeiro da lista é aquele cara que ainda não se conforma que sua última temporada vencedora aconteceu há catorze anos. O canadense Jacques Villeneuve, filho do Gilles, pula de categoria em categoria visando ao menos encontrar um emprego com estabilidade, salário, férias e décimo terceiro. Até aqui, não vem conseguindo. Após ser chutado da BMW Sauber em 2006, ele passou pela Speedcar, pela Le Mans Series e pela NASCAR, quase pegou a vaga de segundo piloto da Stefan no ano passado e fez até mesmo uma corrida na Argentina. Nem Viola é tão irregular e insistente.
Dizem que os organizadores da Indy já entraram em contato com Villeneuve, certamente o piloto com o perfil mais adequado para ser convidado. Seu currículo dispensa maiores comentários: campeão de Fórmula 1, campeão da Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em um espaço de apenas três anos. Apesar de ter ficado um tanto quanto sumido nos últimos anos, ainda é um nome que agrada a muitos americanos e europeus. Além do mais, ele está absolutamente livre de contratos leoninos. E quer muito voltar a correr de monopostos. Esta aí, o piloto perfeito.
Villeneuve nunca dirigiu o Dallara-Honda antes. Na verdade, ele nunca sequer deu as caras em alguma corrida da Indy Racing League ou da atual Indycar. Além disso, está barbudo e absolutamente fora de forma e não está ligando muito para isso. Mas nada disso importa. A associação entre Jacques e Indy é benéfica para todos: para ele próprio, para a categoria, para a mídia e para os torcedores.