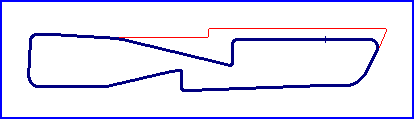A Indy quer voltar aos bons tempos. Ao contrário das apáticas e medíocres gestões anteriores, o atual diretor Randy Bernard é um visionário cheio de boas ideias na cabeça. Embora a maior parte de suas ideias ainda não tenha sido aplicada, é de esperar que sua cuca fresca dê aquele impulso que a categoria tanto precisa. A última de Bernard foi anunciar uma premiação de nada menos que cinco milhões de dólares para o vencedor da última etapa do campeonato, a ser realizada no oval de milha e meia de Las Vegas. Só há um detalhe: esses cinco milhões só serão dados a pilotos de outras categorias que quiserem participar da corrida. A categoria escolherá cinco desses pilotos a dedo. Uma montanha de gente de categorias como a NASCAR e a ALMS fará de tudo para participar.
A premiação especial e a participação de pilotos de outras categorias farão da etapa de Las Vegas um show comparável ao das 500 Milhas de Indianápolis, inegavelmente a prova mais importante da Indy. O dinheiro, provavelmente, virá dos endinheirados cassinos controlados pelos indígenas naquela árida cidade do estado de Nevada. Esse tipo de corrida não é novidade para a Indy, que realizava entre o final dos anos 80 e o início dos 90 o Marlboro Challenge, prova especial patrocinada pela tabaqueira que pagava 1 milhão de dólares ao vencedor (e que renderia um bom post aqui). Em termos de ambição, no entanto, a prova de Las Vegas só pode ser comparada ao sonho do Hawaiian Superprix de 1999, uma corrida que, infelizmente, não aconteceu.
Em linhas gerais, o Hawaiian Superprix seria uma etapa extra-campeonato da CART a ser realizada em novembro de 1999, duas semanas após a última etapa. Ela não contaria pontos para as tabelas, mas distribuiria nada menos que 10 milhões de dólares em prêmios, sendo cinco deles destinados ao vencedor, a mesma premiação de Las Vegas. Seriam dezesseis os pilotos que poderiam competir: os doze melhores classificados na temporada 1999 e mais quatro astros a serem escolhidos a dedo pela CART. A corrida seria realizada em uma pista de 1,8 milha construída no aeroporto de Barbers Point, na ilha de Oahu. A intenção não era nem um pouco ambiciosa: apenas bater a Daytona 500 e a Indy 500. Nada mal, hein?
O sonho do Superprix surgiu com Richard Rutherford Sr., um engenheiro automotivo da Califórnia que trabalhou por algum tempo como o diretor da ARS, a antiga Indy Lights. O grande sonho da vida deste cara era realizar uma corrida do que quer que fosse no Havaí, o estado mais ensolarado e praieiro dos Estados Unidos. Em 1993, ele tentou realizar por lá uma corrida com carros da Can-Am que reuniria nomes como Michael Andretti, Kyle Petty, Bill Elliot, Michael Schumacher (!) e Riccardo Patrese (!!). Esta corrida deveria pagar um milhão ao vencedor, mas ninguém quis financiá-la e o devaneio foi arquivado.
Rutherford, no entanto, não era um sujeito de desistir fácil das coisas. Entre 1994 e 1998, ele maturou uma ideia de realizar uma corrida da então emergente CART no arquipélago. No fim de 1998, ele conseguiu reunir uma turma de amigos para comandar esta futura corrida, como David Grayson, que arranjou 30 milhões de dólares em títulos emitidos pela instituição Frontier Insurance Group, e Phil Heard, que seria o diretor do evento. Andrew Craig, presidente da CART, e Ben Cayetano, governador do Havaí, também mergulharam de cabeça no projeto.
O Hawaiian Superprix foi anunciado ao mundo no dia 25 de fevereiro de 1999. Rutherford, Craig e Cayetano se reuniram para apresentar o projeto a toda a mídia mundial. Como apresentado acima, seriam reunidos os doze melhores pilotos da CART na temporada 1999 e também mais quatro pilotos convidados. A premiação total seria de polpudos 10 milhões de dólares, sendo cinco deles destinados ao vencedor e 250.000 ao pole-position. Prevista para o dia 13 de novembro, a corrida seria realizada em duas baterias de 60 minutos. No meio das duas baterias, haveria shows de música, concursos de miss, apresentações aéreas e sorteio de prêmios aos espectadores, incluindo um prêmio de um milhão de dólares a um único sortudo. A organização esperava obter lucros de até 85 milhões de dólares e ter 50.000 pessoas assistindo nas arquibancadas, além de milhões de telespectadores pagando cerca de 20 dólares para assistir à corrida pelo Showtime. O sistema de pay-per-view, segundo a organização, reuniria boa parte dos fundos utilizados para pagar a premiação.
Como todo evento com esse grau de pretensão, o oba-oba foi enorme. Richard Rutherford disse que “esperava que muitos havaianos e pessoas de várias partes do mundo comparecessem para ver os grandes pilotos e seus belos e exóticos carros disputando o maior prêmio único da história do automobilismo”. Andrew Craig comentou que “seria um belíssimo evento de encerramento do milênio”. E o governador Cayetano disse que “o estado do Havaí receberia este evento automobilístico com muita felicidade”. Os pilotos também se manifestaram a favor. O falecido Greg Moore chegou a dizer que “se eu ganhasse cinco milhões, me aposentaria na hora”.
Uma coisa que aprendi cedo demais na vida é que quando há muita gente feliz e otimista com alguma coisa, é porque essa coisa tende a dar errado. Observando os dois parágrafos acima, dá pra perceber que o Hawaiian Superprix rumava ao fracasso retumbante. E foi o que aconteceu.
Para começar, o anúncio demasiado tardio. Anunciar um evento tão grandiloquente a ser realizado em apenas nove meses é pura falta de noção da realidade. Especialistas, como o jornalista Bill Koenig, acreditavam que o ideal era postergar a corrida para novembro de 2000, o que permitiria que as coisas fossem feitas com mais calma e planejamento. Mas Rutherford e sua turma acreditava que a grandeza do evento em si congregaria pessoas e empresas em número suficiente para tocar o projeto em pouco tempo.
O pouco tempo entre o anúncio e a etapa queimou boa parte da credibilidade do evento. As empresas não queriam se associar a um negócio feito às pressas. A dificuldade para encontrar um patrocinador principal, que entrasse com cinco milhões de dólares, era gigantesca. Mesmo as menores cotas de patrocínio não estavam sendo preenchidas a contento. No fim, apenas algumas poucas pequenas empresas havaianas, como uma agência de notícias local, aceitou colocar alguns cobres nos cofres da organização. Outras empresas decidiram apoiar de outra maneira, fornecendo vagas em hotéis e carros de serviço. Ficava claro que o Hawaiian Superprix teria de ser tocado com os 30 milhões de dólares do empréstimo da Frontier. E que esse primeiro evento só daria prejuízo. Paciência, pensava Rutherford. O evento será tão grande nos próximos anos que os lucros cobrirão este primeiro ano.
Mas este foi apenas um de inúmeros problemas.
Esse negócio de transmissão por pay-per-view conseguiu desagradar a todos. Richard Rutherford fez um acordo com a Showtime, canal destinado à programação PPV, para transmitir a corrida cobrando 20 dólares. Boa parte das empresas nem quis saber de patrocinar o evento devido a essa decisão. Algumas equipes da CART também reclamaram muito, já que seus próprios patrocinadores não teriam a visibilidade desejada. E os números jogavam contra o PPV. As corridas da CART em TV aberta registravam índices Nielsen (o IBOPE americano) entre 1,4 e 1,9, o que representava menos de um milhão de telespectadores por etapa. São números considerados baixos, ainda mais em comparação aos das corridas da NASCAR, que eram vistas pelo dobro de pessoas. Se na TV aberta a audiência já não era alta, o que dizer da transmissão paga?
A escolha da data também foi infelicíssima, já que o dia 13 de novembro era o dia do jogo entre Fresno e Universidade do Havaí, a partida de futebol americano mais esperada pelos havaianos naquele ano. E o Showtime ainda teria de mostrar a aguardada luta entre Evander Holyfield e Lennox Lewis. Com dois eventos competindo pelas mesmas atenções, o Hawaiian Superprix perderia boa parte da audiência comum, aquela que não é particularmente interessada por corridas.
A CART também não colaborou. A entidade não moveu muitos palitos para promover a corrida, que era anônima até mesmo para boa parte dos fãs de automobilismo. Além disso, ela jogou um balde de água sobre as possibilidades de pilotos a serem convidados para a corrida. Enquanto os jornalistas e o próprio Richard Rutherford defendiam a presença de nomes como Jacques Villeneuve e Alessandro Zanardi, ambos correndo na Fórmula 1, a CART decidiu que não convidaria pilotos tão consagrados, pois seu sucesso colocaria em cheque a qualidade dos seus próprios pilotos. Seria feio ver alguém da NASCAR dando uma surra na turma que já conhece os carros da categoria. O raciocínio fazia sentido, mas afugentou muitos que queriam ver uma verdadeira reunião de gênios.
Aos poucos, a falta de dinheiro e o desinteresse por parte da mídia e dos potenciais espectadores começou a arruinar a realização da corrida. As vendas de ingressos eram tão baixas que as estimativas de 50.000 espectadores caíram inicialmente para 14.000 e depois para míseros 7.000. Em agosto, para piorar as coisas, o Showtime rescindiu o contrato com a organização da corrida e Richard Rutherford teve de correr atrás de uma emissora de TV que se dispusesse a mostrar a prova. As tradicionais ABC e ESPN, que mostravam as demais corridas da CART, não queriam saber da prova, já que haviam sido deixadas de lado. Restou a Rutherford fazer um acordo às pressas com o Speedvision, canal especializado em automobilismo que corresponde ao atual Speed.
A situação era tão calamitosa que Rutherford decidiu deixar o cargo de CEO para Phil Heard, abandonando o projeto. Heard tinha um enorme pepino para resolver: o dinheiro era escasso, as obras estavam atrasadas, as previsões eram as mais negativas e havia ainda uma corrida a ser realizada, afinal! Ele propôs cancelar o convite aos pilotos de fora e reduzir a premiação total a oito milhões de dólares, sendo quatro deles destinados ao vencedor. A opinião pública caiu em cima do pobre coitado.
Como se desgraça pouca fosse bobagem, em outubro, um conflito entre os trabalhadores do porto de Honolulu e as empresas de transporte marítimo, que traziam ao arquipélago nada menos que 90% de tudo o que havia na ilha, interrompeu a construção do circuito. A organização não conseguia reunir o aço necessário para levantar as arquibancadas e apenas 20.000 dos 50.000 lugares foram finalizados. Sem grandes escolhas, Phil Heard decidiu anunciar o cancelamento da corrida no dia 19 de outubro, pouco menos de um mês antes de sua realização. Acabou aí o sonho do Hawaiian Superprix.
Uma pena, já que a pista parecia ser boa. Mauricio Gugelmin e Mario Andretti chegaram a pilotar no traçado, que ainda estava sendo erguido, e gostaram muito do que viram. Infelizmente, a junção de ambição desmedida, falta de planejamento, tempo curto, descrença geral e puro azar minou uma das ideias mais legais surgidas no automobilismo americano. Que não aconteça o mesmo com Las Vegas, um lugar onde a sorte, o azar, a ambição e a efervescência comandam.